Salve a festa da liberdade!
Jary Cardoso
“É um dia alegre, muito baiano na sua jovialidade e no seu culto à liberdade”. Assim falou o escritor Jorge Amado sobre a festa que o povo criou, em paralelo às cerimônias oficiais e no formato que dura até hoje.
Foi no ano seguinte à vitória contra os tiranos, em 1824 e nesse dia, as autoridades locais apenas assistiram a uma parada militar, compareceram a uma missa e depois à inauguração do retrato de D. Pedro I.

Enquanto isso, a verdadeira festa aconteceu: populares encenavam, por iniciativa própria, a entrada triunfal em Salvador do exército de brasileiros esfarrapados e famintos no mesmo dia em que os portugueses fugiram da guerra e desocuparam a cidade. Uma carreta preservada da Batalha de Pirajá, decorada com folhas de plantas nas cores verde e amarelo e um mestiço colocado nela como símbolo da nação brasileira, desfilou desde a Lapinha até o Terreiro de Jesus, percorrendo o mesmo caminho das tropas patrióticas.
O desfile repetiu-se no ano seguinte e, em 1826, ganhou outro carro alegórico: nele, a estátua de um índio, o caboclo, segurando a bandeira nacional. Surgiram os animados “batalhões patriotas”, também evocando a mobilização popular das lutas pela independência do país.
Passaram-se 200 anos.
Nas páginas seguintes, histórias das duas principais batalhas mostram a origem de tantos festejos e do orgulho dos baianos com as vitórias conquistadas na guerra que consolidou a Independência do Brasil.
A cada 2 de Julho, Salvador reveste-se de cores fantásticas em uma narrativa entusiasta que, muitas vezes, beira o épico. Os fatos históricos da Guerra da Independência do Brasil na Bahia conjugam-se com a mitologia criada em torno dela e assim compõem o enredo básico da Festa do 2 de Julho, tendo como refrão seu hino libertário:
Nunca mais o despotismo
Regerá nossas ações
Com tiranos não combinam
Brasileiros corações

8 de novembro de 1822
Pirajá abre fogo fatal
A pugna imensa/ Travara-se nos cerros da Bahia../
O anjo da morte pálido cosia/ Uma vasta mortalha em Pirajá/
Neste lençol tão largo, tão extenso/ Como um pedaço roto do infinito … /
O mundo perguntava erguendo um grito: “Qual dos gigantes morto rolará?!”
(Trecho do poema de Castro Alves, “Ode ao Dois de Julho”.)
Madrugada de 8 de novembro de 1822. Enquanto cerca de 250 soldados portugueses, apoiados por 300 marinheiros, desembarcam nas praias de Plataforma, Itacaranha e Cabrito, outros 1.500 soldados, 300 praças de infantaria e 100 marinheiros da Armada avançam pela Estrada das Boiadas. O objetivo é atacar o centro de Pirajá e outros pontos na região ocupados pelo Exército Brasileiro.
As forças do general Madeira de Melo tentam, assim, desbloquear a chegada de boiadas e víveres a Salvador, onde estão sitiadas. Alertada sobre a ofensiva, a vanguarda do Exército Brasileiro abre fogo contra o inimigo. Uma de suas divisões consegue conter um ataque vindo pela orla da praia.
Integrado por tapuias flecheiros, um grupo de apoio toma posição de luta, mostrando “o valor indomável próprio da sua raça”, como escreveria um cronista. Mas, impotentes diante de centenas de portugueses que seguem em frente ordenadamente, os índios recuam e se juntam a um regimento de milícias.
As forças brasileiras somam cerca de 2 mil homens que resistem em várias frentes. Os combates mais violentos transcorrem nas escarpas de Pirajá, em Plataforma e Cabrito. Depois de mais de cinco horas de batalha, a vitória dos portugueses parece iminente, porém eles recuam derrotados.
Atacar ou recuar, eis a questão
Com fogo incessante, os portugueses avançam, ligeiros, pelos lados de Itacaranha e na direção de Pirajá. Não descuidam de cortar a retaguarda dos pontos ocupados pelos soldados brasileiros. Diante desse quadro da luta, sentindo-se em desvantagem, o major pernambucano José de Barros Falcão, comandante do bloqueio a Pirajá, decide pela retirada. Pretende, assim, impedir o aniquilamento de suas forças, atacadas pelo inimigo por todos os lados, estreitando cada vez mais a linha de defesa.

De repente, o inesperado. O corneteiro Luís Lopes, português a serviço do Brasil, inverte o sinal ordenado pelo major. Toca no clarim as notas de “avançar a cavalaria”, seguidas pelas de “à degola”. Os portugueses, inseguros em sua ofensiva, temem não contar com homens, armas e munições suficientes para levarem a missão até o fim. Os toques ameaçadores do clarim quebram de vez seu moral.
Persuadidos de que uma cavalaria de reforço chegou para os brasileiros, os lusitanos tratam de fugir desordenados. Próximos dali, os soldados pernambucanos aproveitam a ocasião para lhes causar “um destroço considerável” – como seria descrito anos depois por Inácio Acioli no livro Memórias históricas e políticas da província da Bahia.
O historiador e escritor Luís Henrique Dias Tavares afirma que devido à escassez e imprecisão dos informes, passou-se a dar grande crédito à versão de Ladislau dos Santos Titara, autor do poema ‘Paraguaçu’, que apresenta o cabo Luís Lopes salvando o Exército Brasileiro com um engano no toque de corneta: “Mas há outras versões que devem ser destacadas”, ele afirma.
Já a doutora em Literatura Brasileira, pesquisadora e jornalista Lizir Arcanjo, observa que “não houve combates depois do toque do clarim”. Ela conclui que, em nenhum dos lados, os soldados estavam em condições de luta, todos com fome. Do lado português, feridos e mortos pelo caminho: “Pesquisei documentação do período em fontes primárias do Brasil e de Portugal, e ninguém no seu tempo deu importância ao corneteiro”.

A trincheira da resistência
A primeira capital da Bahia brasileira
Data histórica de 25 de junho de 1822. A Câmara de Cachoeira, secundando 11 dias depois a de Santo Amaro, aclama D. Pedro como príncipe regente do Brasil, rejeitando, assim, a autoridade das Cortes de Lisboa. Os cachoeiranos festejam nas ruas a decisão. Em seguida é oferecido o Te Deum na igreja matriz, acompanhado por cerca de mil pessoas, que, ao final, saem em desfile e se concentram na Praça da Aclamação.
De repente, soam tiros de canhão provenientes da escuna portuguesa que há dias ancorou à beira do Rio Paraguaçu para fechar o porto da vila, por ordem do general Madeira de Melo. Os portugueses disparam contra os que passam correndo. O soldado-tambor Soledade cai morto. A reação não demora.
As milícias que estavam a postos e populares agem em conjunto e contra-atacam. Três dias depois, a embarcação de guerra estará silenciada e seu comandante e marinheiros presos, assim como os portugueses e soldados que, em terra, fizeram disparos.
“De modo surpreendente”, notou o historiador Luís Henrique Dias Tavares, Cachoeira constituiu, já no dia seguinte ao ataque da canhoneira, uma Junta Provisória de Defesa e Conciliação com o objetivo inicial de divulgar a aclamação de D. Pedro e as violências dos portugueses contra os brasileiros.
Enquanto outras vilas e povoados da província, inclusive fora do Recôncavo, também aclamavam o príncipe regente, a Junta de Cachoeira aprovou “uma resolução definitiva” para o reconhecimento da autoridade do príncipe em todas as localidades da Bahia.
A Junta interina logo se tornou um centro de arregimentação para a guerra de forças de todo o Recôncavo. Assim, as tropas brasileiras mobilizaram-se para a primeira fase da guerra, formadas na região por milícias, voluntários, negros, mestiços, livres, libertos, brancos pobres e índios.
Com todo esse protagonismo e um ano depois de vencer a primeira batalha da guerra, Cachoeira foi oficializada como primeira capital da “Bahia brasileira”.
No dia 25 de junho de 1823, em substituição à Junta Provisória, tomou posse a Junta de Governo da Província da Bahia, nomeada por D. Pedro I, com poder de jurisdição, em nome do imperador, sobre toda a província da Bahia.
A Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, ao ser elevada à categoria de cidade, em 1837, ganhou um novo nome pelos seus feitos durante as lutas que culminaram no 2 de Julho: Heroica Cidade de Cachoeira.
Em 2007, a Lei Estadual nº 10.695 estabeleceu que, todo dia 25 de junho, a sede do governo baiano seja transferida para Cachoeira em homenagem à população do Recôncavo pela resistência às tropas portuguesas durante as lutas pela Independência.
MARIA QUITÉRIA
O povo jamais esquece
Disciplinada, corajosa, capaz e consciente.
Nascida em 1792 numa localidade que hoje é parte de Feira de Santana, Maria Quitéria de Jesus foi a primeira soldado mulher do Exército brasileiro. Aos 30 anos, cansada dos atritos em casa com a madrasta, Quitéria toma resolução drástica ao saber das notícias trazidas por tropeiros. Depois do ataque português a Cachoeira, em 25 de junho de 1822, que deu início à guerra, emissários estavam à procura de voluntários.

Numa época em que os horizontes femininos não iam além de “cozinhar, costurar e parir”, como escreveu Sonia Coutinho, autora do livro Guerreira Maria – Presença de Maria Quitéria, ela se disfarçou de homem – cortou o cabelo, amarrou os seios, vestiu a roupa do cunhado e adotou o nome dele, José Cordeiro de Medeiros. Despediu-se do namorado e rumou para Cachoeira.
Como soldado Medeiros, apresentou-se num regimento de artilharia – somente homens eram admitidos nas Forças Armadas – e mostrou que sabia atirar. Passou, depois, para a infantaria e consta que integrou o Pelotão dos Periquitos. De acordo com o historiador Luís Henrique Dias Tavares, o batalhão da farda verde “respondia pela defesa de Itapuã, supondo-se (não há prova) que nele se encontrava Maria Quitéria”.
Mulher singular e decidida, algum tempo depois revelou sua identidade. No entanto, o major Antônio José da Silva Castro, avô do poeta Castro Alves, fez questão que ela permanecesse na tropa, pois demonstrara facilidade no manejo de armas. “Foi um soldado disciplinado, corajoso, capaz, consciente”, escreveu Jorge Amado.
Seu destemor nos combates chegou ao conhecimento do imperador. Vencida a guerra, a heroína foi chamada para o Rio de Janeiro e, em cerimônia no Palácio Imperial, foi condecorada por D. Pedro I, em 20 de agosto de 1823, com a insígnia dos Cavalheiros da Ordem do Cruzeiro do Sul.
Contudo, no final da vida, cega e na extrema pobreza, Quitéria morreu esquecida, aos 61 anos. Não se sabe onde foi sepultada.
JOANA ANGÉLICA
A mártir virou heroína
No amanhecer do dia 19 de fevereiro de 1822, tropas a mando do brigadeiro Madeira de Melo, com a missão de prender soldados e oficiais amotinados e apreender armas e munições, iniciam ataques a quartéis em Salvador. O primeiro alvo, o Forte de São Pedro, resiste.
Um dos locais invadidos, vizinho ao quartel, é o Convento da Lapa. Aqui, porém, encontram uma resistência tenaz, não de gente disparando tiros, mas das palavras e gestos determinados da superiora desse claustro de mulheres.

Entre 11 e 12 horas do dia 20, depois de arrombar o portão lateral do convento, os invasores são barrados pela abadessa Joana Angélica de Jesus, de 60 anos, que se coloca de pé na porta de entrada, impedindo a passagem. Sem piedade, a matam a golpes de baioneta, que também deixam ferido o pároco da Lapa, o idoso padre Daniel da Silva Lisboa.
“Não a moveu o patriotismo e, sim, apenas, a defesa da clausura do convento”, observou o escritor Jorge Amado. Para o historiador Manoel Passos, “assassinada assim tão covardemente, sóror Joana Angélica foi mártir” de uma guerra que se tornaria aberta quatro meses depois.
Os mercenários de D. Pedro I
Sem paciência para negociar a libertação de Salvador com as Cortes de Lisboa ou com o general português Madeira de Melo que ocupou a cidade, o jovem imperador Pedro I decide por uma solução militar. Contrata o mercenário francês Pierre Labatut, um general experiente, com atuação sob o comando de Napoleão Bonaparte e em lutas pela independência em países da América espanhola.
Labatut partiu do Rio para a Bahia, em julho de 1822, com a missão de transformar os grupos armados do Recôncavo em um exército disciplinado e forçar os portugueses a se retirarem de Salvador. Chegou com armamentos e acompanhado por cerca de 2.200 soldados, trazidos do Rio, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. No entanto, somados aos 1.500 baianos, não formavam um contingente suficiente.
O comandante foi buscar mais soldados entre os escravos, em troca de alforria. O general francês criou o Exército brasileiro, mas, impetuoso, desentendeu-se com a elite baiana e com subordinados. Acabou preso e deposto em maio de 1823, sendo substituído pelo coronel José Joaquim de Lima e Silva, que comandou a entrada triunfal em Salvador dois meses depois.
Antes da deposição de Labatut, em março, outro mercenário havia sido contratado por D. Pedro I, o almirante inglês Thomas Cochrane, também para organizar e comandar uma força militar, a Marinha do Brasil, e expulsar os navios portugueses da Baía de Todos-os-Santos.
Cochrane foi bem sucedido nas duas missões. No final da guerra, quando Madeira de Melo recusou-se a assinar a capitulação e retirou-se com seus navios, armas e homens, o almirante inglês saiu em sua perseguição, atacando-o até Lisboa. No percurso tomou-lhe três navios e prendeu as tripulações.
7 de janeiro de 1823
Itaparica vence no contra-ataque
O dia 7 de janeiro de 1823 amanhece em Itaparica e os poucos moradores que ainda dormem são despertados por tiros de canhão. Começa o maior dos ataques à ilha desfechados pelos portugueses a mando do general Madeira de Melo. O inimigo conta com 40 barcas, lanchas canhoneiras e dois brigues de guerra. A maioria das embarcações concentra-se diante do Forte de São Lourenço e do povoado da vila.
O ataque não pega de surpresa a defesa da ilha. Desde 25 de agosto do ano anterior, tropas portuguesas tentam ocupar esse local estratégico, que fica no caminho entre a foz do rio Paraguaçu e a Baía de Todos-os-Santos.

É a mais decidida tentativa de romper o bloqueio que impede o ataque às cidades rebeladas do Recôncavo e que interdita o transporte de alimentos da região para Salvador, onde Madeira de Melo está sitiado por terra.
Os primeiros disparos do dia contra o Forte de São Lourenço têm resposta imediata: o contra-ataque parte de dois barcos e dos canhões em terra, escondidos pela vegetação em Amoreiras, Fonte da Bica, Engenho Boa Vista, entre outros pontos, enquanto soldados e civis nas trincheiras também atiram.
Os combates se prolongariam durante todo o dia, causando centenas de baixas entre os portugueses. Pelo menos um de seus navios seria destruído pelos canhões e outros incendiados por voluntários.
Por volta das 6 horas da tarde, as embarcações inimigas iriam manobrar de volta para Salvador – vitória da ilha na grande batalha. Haveria mais ataques lusitanos nos dois dias seguintes, mas seriam novamente repelidos.
Mais de 40 moradores de Itaparica, a maioria mulheres e supostamente sob a liderança da ex-escrava e marisqueira Maria Felipa, respondem por uma missão especial no sistema de defesa. Cumprem o papel de sentinelas.
Dia e noite vigiam praias, matas e caminhos, escalam elevações de terreno perto das áreas de guerra, observam a chegada e a movimentação de barcos inimigos. E ficam atentas aos portugueses que desembarcam e tentam saquear os moradores.
Surra de cansanção, ora pois, pois!
Duas façanhas, ambas acontecidas à beira-mar e atribuídas à liderança de Maria Felipa, no futuro serão lembradas e comentadas com orgulho pelos itaparicanos. E vão motivar festas na Bahia.
De seu mirante estratégico, guerreiras nativas não desgrudavam os olhos dos navios portugueses. Descem todas até a praia, dançando na areia de maneira insinuante, chamam a atenção dos homens que, como elas, são vigias a postos nas embarcações inimigas mais próximas. Marujos e soldados não resistem à sedução e rumam para a praia, deixando os navios desprotegidos.

Quando se aproximam do grupo de mulheres, elas retiram, de baixo das saias rodadas, molhos de galhos de uma potente planta com efeitos urticantes que seguram em posição de ataque, e partem como feras pra cima dos homens. Atônitos e indefesos, gritam de dor com a vigorosa surra que levam e caem coçando-se feito doidos.
O caule e as folhas do cansanção, golpeados sobre o corpo, irritam e queimam a pele, provocando inflamação, intensa dor e coceiras.
Enquanto isso, outras mulheres e alguns homens executam a segunda etapa do plano de Maria Felipa: de dentro de canoas, lançam tochas incendiárias nos navios abandonados pelos marotos otários.
As descrições protagonizadas por Maria Felipa são controversas.
Jaime Nascimento, historiador, integrante do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, afirma convicto: “Ela [Maria Felipa] não existiu. É uma personagem de ficção criada pelo escritor itaparicano Ubaldo Osório, avô de João Ubaldo Ribeiro, que foi apropriada por segmentos do movimento negro e transformada em ‘heroína da Independência’ de forma bizarra e desonesta com a história.”
Porém, nem todos acusam a falta de registros sobre Maria Felipa:
Fato ou lenda?
“Hoje, já se contabiliza documentação que comprova a existência e a participação dela na guerra”, garante o historiador Manoel Passos, em entrevista exclusiva. “Temos um trabalho muito bem feito da historiadora Eny Kleyde Vasconcelos Farias, que não só resgata a história de Maria Felipa, como também os nomes das mulheres do grupo associado a ela, que, assim, saíram da invisibilidade”.
Para a historiadora Mary Del Priore, especializada no estudo das gentes brasileiras, o mais importante não é comprovar ou não a existência de Maria Felipa e de seus feitos, mas, sim, valorizar a “memória construída” pelos itaparicanos.
“Maria Felipa representa uma consagração para essas mulheres anônimas citadas no diário de lorde Cochrane”, diz Mary, referindo-se ao militar inglês contratado por D. Pedro I para comandar a Marinha brasileira na guerra. As histórias contadas por ele, conclui, ressaltam “a presença e grande participação de mulheres nessa luta em que a principal bandeira era a liberdade”.
A história percorre do litoral ao sertão

Para marcar o Bicentenário do 2 de Julho, o Recôncavo Baiano volta a ser atacado, desta vez por um “bombardeio” de atividades cívicas, artístico-culturais e pedagógicas – seminários, palestras, aulas públicas, promovidas pelo Governo da Bahia. Desde o dia 14 de junho até 14 de julho, a operação segue a rota denominada “Bahia: Memórias de Lutas e Liberdade”, que abrange os 27 territórios do estado e transita por 16 cidades: Santo Amaro, Saubara, Simões Filho, Candeias, Camaçari, Valença, Cairu, Jaguaripe, Caetité, Itaparica, Cachoeira, Maragogipe, São Félix, Governador Mangabeira, São Francisco do Conde e Salvador.
Universidades, escolas, historiadores, institutos, academias, parlamentares, prefeitos e meios de comunicação estão envolvidos no plano. A programação tem caráter comemorativo e também “de legado”, com o envolvimento das escolas. O plano prevê levá-la em parte para fora do estado: a Brasília, com a Exposição 2 de Julho, marcada para o período de 3 a 14 de julho, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal; e a Buenos Aires, na Argentina, por meio de uma parceria entre a Secult-BA e a Casa Pátria Grande Nestor Kirchner.
Haverá selo comemorativo, criado pelos Correios, e uma moeda especial, feita pela Casa da Moeda. Inauguração de monumentos de personalidades heroicas da guerra na capital e interior.
Desde os tempos do Império, vozes da Bahia defendem que o país também reconheça – e comemore – o 2 de Julho de 1823, como o dia em que a luta dos brasileiros em cenário baiano consolidou a Independência do Brasil. Agora, quando se festejam os 200 anos da data, surge esse plano de ações para aprofundar e divulgar mais conhecimento sobre seu significado.

O PASSO A PASSO DA CELEBRAÇÃO DA LIBERDADE
29 de junho
- 7h – Saída do Fogo Simbólico de Cachoeira e Mata de São João em direção a Pirajá.
1º de julho
- 9h – Celebração do Te Deum na Catedral da Sé.
- 16h – Chegada do Fogo Simbólico ao Largo de Pirajá.
- 17h – Show do Cortejo Afro no palco do Largo de Pirajá.
2 de julho
- 6h – Alvorada no Largo da Lapinha.
- 8h30 – Hasteamento das bandeiras por autoridades, com a execução do Hino Nacional e do Hino ao 2 de Julho.
- 9h – Início do desfile do 2 de Julho em direção ao Pelourinho.
- 14h30 – Reorganização do Cortejo Cívico.
- 15h – Reinício do desfile.
- 16h30 – Chegada dos carros dos Caboclos ao Campo Grande.
- 21h30 – Campo Grande: Encontro das Filarmônicas, sob a regência do maestro Fred Dantas.
5 de julho
- 18h – Volta dos carros dos Caboclos, do Campo Grande para o Pavilhão da Lapinha, com a participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô.
- 20h – No palco do Largo da Lapinha, show com Banda Ofá e Samba de Caboclo e participação de ogãs de terreiros de candomblé de Salvador





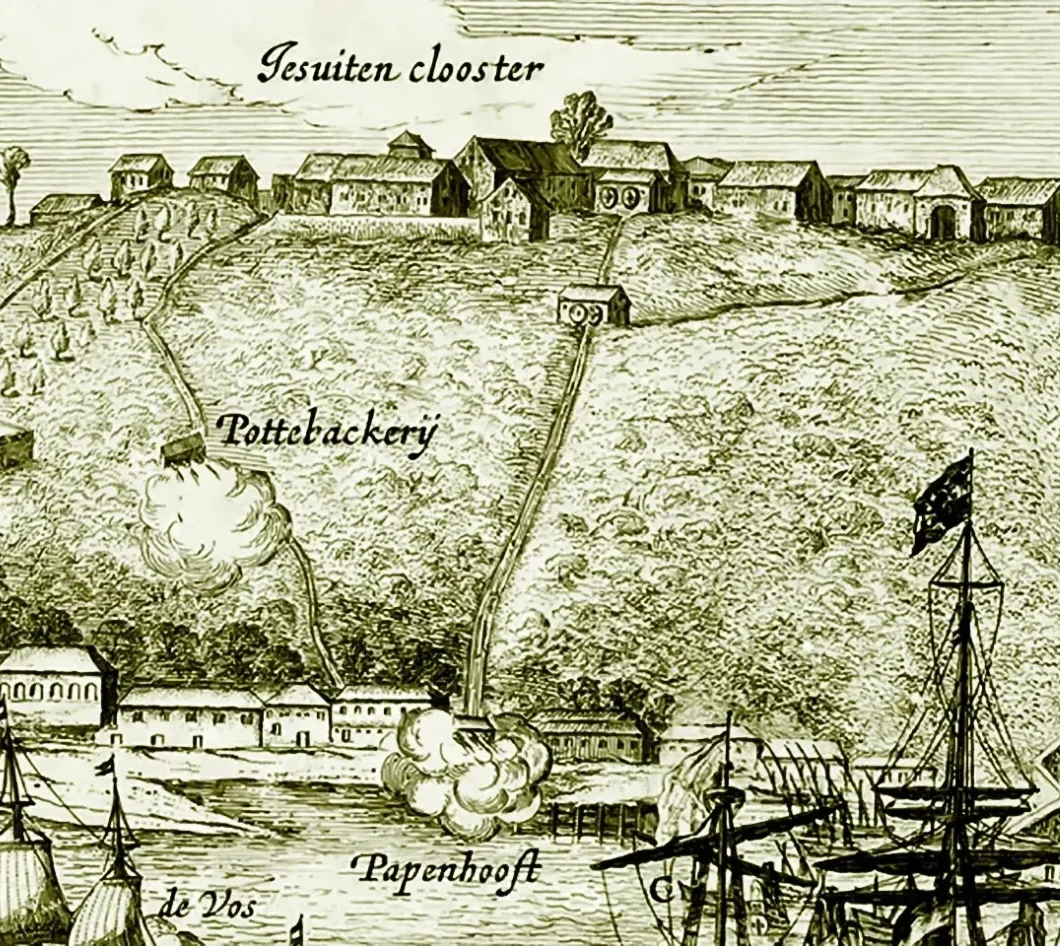





2 Responses
Gostei da revista
Nossa História apresentada de maneira prazerosa 👏👏👏